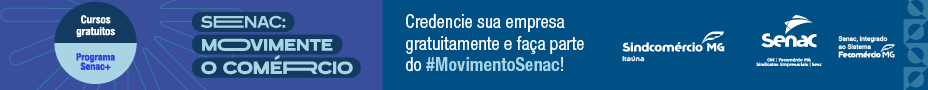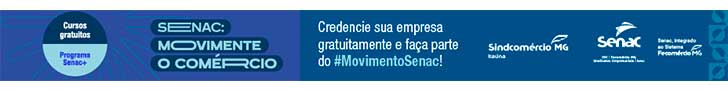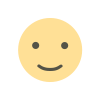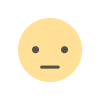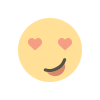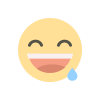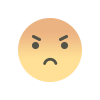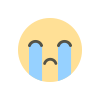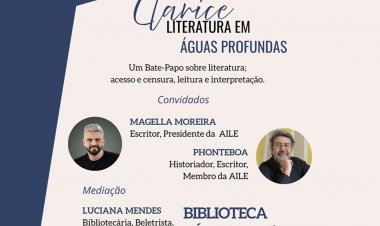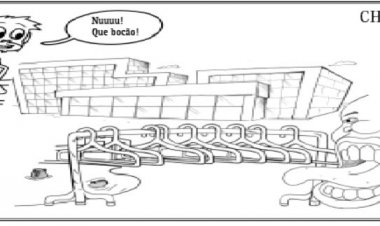Barragem do Benfica: quando Itaúna decidiu sonhar com grandeza

No quarto capítulo desta travessia pela memória da Barragem do Benfica, abrimos novas comportas de história — agora mergulhando nos detalhes técnicos e humanos que fizeram dessa obra um divisor de águas para Itaúna. Para redigir este novo trecho, recorro mais uma vez à primorosa pesquisa conduzida por Guaracy de Castro Nogueira, cuja profundidade e precisão histórica iluminam os bastidores de uma das maiores obras de infraestrutura da história da cidade.
Foi numa época em que se construíam sonhos com régua de cálculo e fé. Sem recursos públicos, sem plano de governo, sem edital. Apenas com coragem, cálculo, concreto… e água. Muita água. Assim nasceu a Barragem do Benfica, uma das maiores obras de infraestrutura da história de Itaúna — e uma das mais subestimadas também.
Tudo começou quando o engenheiro e visionário Dr. Osmário Soares Nogueira percebeu o óbvio que ninguém via: o São João, modesto em volume, mas constante em presença, poderia ser a chave para transformar a matriz energética da cidade. A represa, idealizada com precisão quase milimétrica, foi pensada para armazenar, em sete meses secos, 36 milhões de metros cúbicos de água — número que hoje ainda impressiona. A barragem teria 21 metros de altura, 40 quilômetros de perímetro e capacidade para alimentar usinas elétricas nos meses mais críticos. Era uma obra de urgência técnica e de ambição civilizatória.
Mas Itaúna, como de costume, não teve ajuda fácil. Nem de Brasília, nem de Belo Horizonte, nem do Rio. Em uma tentativa formal de buscar apoio junto ao BNDES, o projeto foi recusado. O próprio Juscelino Kubitschek, então presidente da República, repassou a negativa. E foi aí que nasceu o verdadeiro milagre: a solução doméstica.
Dr. Osmário, homem de síntese e negociação, propôs uma divisão entre as duas maiores forças industriais da época — a Santanense e a Itaunense. Seria uma espécie de consórcio elétrico: a barragem ficaria sob responsabilidade da Itaunense, que arcaria com 60% dos custos, enquanto a Santanense, com 40%, teria direito à energia gerada por uma das usinas. Um pacto de engenharia e pragmatismo entre rivais históricos. Como um acordo tácito em nome da cidade.
A execução foi, como se esperava, desafiadora. As visitas ao canteiro de obras ocorriam semanalmente, sempre com uma comitiva de líderes, técnicos e visionários — gente como Vítor Gonçalves de Sousa, Rubens Vale de Melo e o próprio Osmário, que fazia da sua rotina de trabalho um gesto cívico. Vieram engenheiros da Alemanha, como Paulo Werkmann, e especialistas de Minas, como Kurt Sauer. A barragem foi construída em rocha viva. E mais do que isso: foi levantada com engenho e uma floresta de andaimes. Pedreira, usina, curva de vertedouros e leito de choque foram erguidos com os meios disponíveis. Não havia luxo, mas havia propósito.
Era preciso, claro, negociar cada palmo de terra com dezenas de proprietários. Alguns se negavam a vender. Outros queriam garantias para não serem afogados sem compensação. Não faltaram reuniões, testemunhos, e até confissões de fé. Um deles chegou a dizer: “Se eu soubesse que era verdade, que não ia me pagar, nem teria ido à missa.” Itaúna tem dessas ironias sagradas. Ainda assim, prevaleceu o bom senso — e, sobretudo, a diplomacia silenciosa de lideranças que souberam colocar a cidade acima das vaidades.
A barragem foi construída. As usinas, inauguradas. E Itaúna, pela primeira vez, passou a ter energia regular, limpa e suficiente para sustentar seu crescimento. Foi a base sobre a qual a cidade se urbanizou, industrializou, floresceu. Um passo firme no chão úmido do progresso. Tudo isso, vale lembrar, sem apoio estatal. Apenas com a força de empresários que entenderam seu papel como cidadãos.
A Barragem do Benfica não é apenas uma obra de concreto. É a epifania de um tempo em que Itaúna teve coragem de mirar longe, quando a cidade ousou arquitetar o futuro com as próprias mãos. Um feito que ecoa como lição e legado: o progresso não pede licença — ele nasce da vontade indomável de quem se recusa a herdar limites. Afinal, foi essa água que consolidou nossas margens e dissolveu as divisas que separavam territórios e afetos.